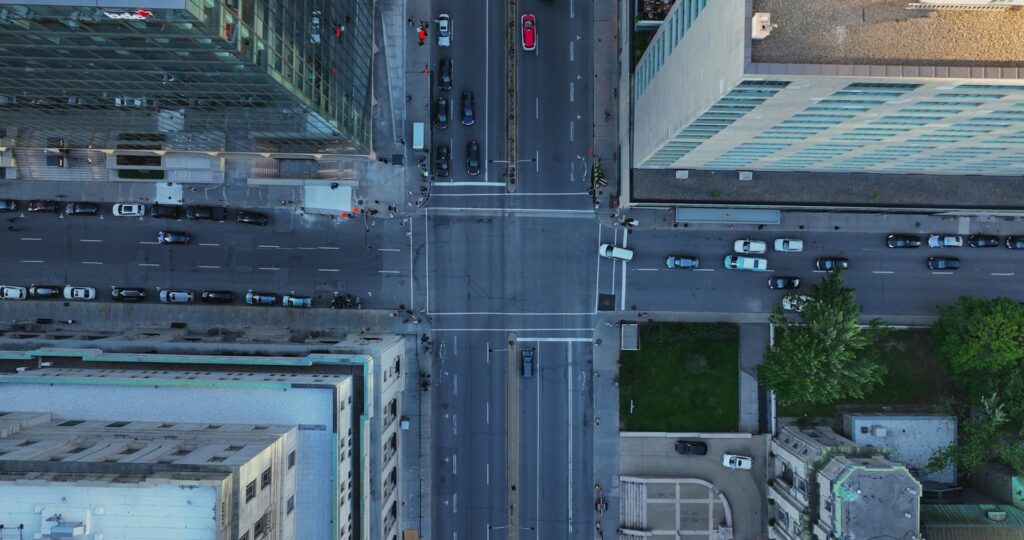Por anos, nos venderam a fantasia de telas brilhantes e carros autônomos. Disseram-nos que a tecnologia resolveria o caos do tráfego e que os dados nos libertariam. No entanto, a realidade mostrava outro lado. O verdadeiro desafio urbano desta década não está em quantos sensores instalamos nos semáforos, mas em como conseguimos aproximar esses avanços em vez de nos isolar em bolhas digitais de solidão eficiente.
A promessa tecnocrática de ontem
Por: Gabriel E. Levy B.
Pouco mais de uma década atrás, a visão predominante sobre o futuro das metrópoles focava quase exclusivamente em hardware. Grandes corporações de tecnologia apresentaram modelos imaculados onde tudo funcionava como um relógio suíço. A ideia era simples e sedutora: se pudéssemos medir tudo, poderíamos otimizar tudo.
Câmeras foram instaladas em cada esquina e as calçadas foram preenchidas com sensores. A cidade começou a ser tratada como se fosse um computador gigante que precisava de um sistema operacional livre de erros.
Naquela época, o sucesso era medido pela velocidade dos dados e pela fluidez do tráfego veicular.
Ninguém perguntou onde o pedestre estava nessa equação. Presumia-se que uma cidade eficiente era, por padrão, uma cidade feliz.
Os urbanistas daquela época priorizavam o fluxo em vez da sala. Eles projetaram avenidas para os carros passarem rápido, não para as pessoas pararem para conversar.
O modelo, importado da gestão empresarial, buscava eliminar atritos.
Acreditava-se que o caos urbano, essa desordem natural nos mercados de rua e nas praças lotadas, era um erro a ser corrigido.
O dinheiro foi investido em centros de controle que pareciam saídos de filmes de ficção científica, com paredes cheias de monitores monitorando o pulso da cidade em tempo real.
Mas algo deu errado nesse cálculo matemático. Ao otimizar o espaço para a máquina, o ambiente foi desumanizado.
A tecnologia cumpriu sua promessa de eficiência, mas deixou um vazio na experiência vital de habitar o espaço público.
A cidade ficou inteligente, sim, mas também ficou fria. Essa abordagem esqueceu que uma cidade não é um problema de engenharia a ser resolvido, mas um organismo vivo composto por histórias humanas que precisam se esfregar umas nas outras para existir.
Quando a eficiência refresca as ruas
Hoje nos deparamos com um cenário diferente e mais complexo. A tecnologia não é mais uma novidade, mas o ar que respiramos.
Temos aplicativos para tudo: pedidos de comida, transporte, compromissos e entretenimento. Não precisamos mais sair de casa para suprir nossas necessidades básicas.
Esse fenômeno transformou radicalmente a dinâmica urbana.
As ruas, antes palco de encontros fortuitos, correm o risco de se tornarem simples corredores logísticos para entregadores. A conveniência digital trouxe consigo um efeito colateral silencioso: isolamento social.
A socióloga Saskia Sassen, uma voz autoritária no estudo da cidade global, alertou sobre esse perigo. Sassen observou que a obsessão pela tecnologia pode «desurbanizar» a cidade. Em sua visão, se a tecnologia se limita a ser um manto imposto de cima, ela mata a capacidade da cidade de «falar» e responder aos seus habitantes.
Uma cidade real é incompleta e complexa, e é nessa complexidade que reside sua vitalidade.
O contexto atual nos mostra centros urbanos que esvaziaram após a pandemia e que estão lutando para encontrar uma nova identidade.
O trabalho remoto, embora proporcionasse flexibilidade, eliminou milhões de interações diárias. Aquele café da manhã com seu parceiro ou a conversa no elevador desapareceram para muitos.
Agora entendemos que o congestionamento não vinha apenas dos carros. Havia uma congestão humana necessária, um esfregar de corpos e olhares que teciam confiança social. Ao eliminar a necessidade de se mudar, também eliminamos a possibilidade de ser surpreendido.
As cidades enfrentam o desafio de usar a tecnologia para trazer as pessoas de volta ao espaço público.
Não se trata de fechar os servidores, mas de mudar seu propósito. A questão não é mais como mover os carros mais rápido, mas como fazer valer a pena sair para a rua. Precisamos de razões poderosas para abandonar o conforto das telas e voltar a olhar nos olhos um do outro em quadrado.
O paradoxo da solidão conectada
É aí que está o verdadeiro cerne do problema. Vivemos na era da hiperconexão digital e, simultaneamente, na era da desconexão física. A cidade inteligente, em sua ânsia para tornar tudo fácil e sem atritos, eliminou os obstáculos que paradoxalmente nos uniam.
Richard Sennett, um renomado sociólogo e urbanista, abordou essa questão com clareza. Sennett argumentou que a «cidade inteligente» prescritiva corre o risco de ser uma «cidade fechada». Para ele, atrito e resistência são necessários. Quando tudo está pré-programado e otimizado, o cidadão se torna um consumidor passivo de serviços, perdendo sua agência política e social.
Sennett propôs a ideia da «cidade aberta», um lugar que possibilita evolução e mudança, onde a tecnologia facilita a interação em vez de substituí-la.
Se o algoritmo decide onde eu caminho e o que vejo, perco a capacidade de descobrir o que é diferente. Surpresa é essencial para a empatia. Se eu só vejo o que gosto e o que é eficiente para mim, nunca encaro a realidade do outro.
O eixo problemático é que projetamos cidades para evitar conflitos e atrasos. Mas democracia e comunidade levam tempo. Elas exigem parar, negociar espaço na calçada, ceder a passagem, ouvir o barulho da vida. Uma cidade sem atritos é uma cidade árida.
A tecnologia deve ser usada para gerenciar a densidade, não para eliminá-la. O desafio é titânico porque luta contra nossa própria preguiça.
É muito mais fácil pedir o jantar por um aplicativo do que ir ao mercado. É mais fácil assistir a uma série do que ir ao cinema do bairro. A cidade inteligente desta década precisa lutar contra essa inércia.
Devemos nos perguntar se queremos cidades que funcionem como máquinas de venda automática ou cidades que funcionem como fóruns públicos.
Eficiência econômica nem sempre se traduz em bem-estar social. Na verdade, muitas vezes são opostos. Um parque pode não ser «produtivo» em termos de dados ou dinheiro, mas é indispensável para a saúde mental coletiva.
A tecnologia deveria ser o andaime invisível que sustenta essas experiências, não o muro que nos separa delas.
Espelhos urbanos onde podemos nos olhar
Para entender como esse desafio se concretiza, basta olhar para alguns casos específicos ao redor do mundo. Há exemplos em que tecnologia e urbanismo seguiram caminhos opostos, oferecendo lições valiosas sobre o que devemos e não devemos fazer.
Um exemplo emblemático do que acontece quando a tecnologia é priorizada em detrimento da vida é Songdo, na Coreia do Sul.
Foi construída do zero com a promessa de ser a cidade mais inteligente do mundo. Todos os sistemas são integrados, o lixo é aspirado pneumaticamente das cozinhas e os semáforos são adaptados ao tráfego em tempo real.
No entanto, por anos parecia uma cidade fantasma. Faltava a alma, a desordem vital dos bairros tradicionais. Críticos apontaram que foi projetado para eficiência, mas esqueceram da escala humana. É um lembrete de que a tecnologia sozinha não cria comunidade.
No outro extremo do espectro encontramos a estratégia dos «Superblocos» em Barcelona.
Embora não seja um projeto puramente tecnológico, ele utiliza a análise de dados de mobilidade para reorganizar o tráfego.
A ideia era fechar a passagem de veículos em grupos de nove quarteirões, desviando o tráfego para as ruas perimetrais. O interior foi liberado para pedestres, equipamentos de playground e vegetação.
Aqui, a tecnologia serviu para recuperar o espaço, não para automatizá-lo. Os sensores medem a qualidade do ar e o ruído, demonstrando como a vida melhora quando o carro dá ré.
As pessoas saíram novamente, as crianças voltaram a brincar na rua e os vizinhos voltaram a ter espaço para conversar. Foi um uso da inteligência urbana aplicada ao bem-estar social e não apenas à logística.
Outro exemplo interessante surge em Medellín.
A cidade implementou sistemas de transporte integrados como o Metrocable, que conectava áreas marginalizadas ao centro.
Mas ele não se limitou a colocar bondes de cabo.
Ele acompanhou a infraestrutura com parques, bibliotecas e centros culturais nas estações. A tecnologia de transporte foi a desculpa para trazer presença estadual e espaços para reuniões.
Esses casos mostram que o sucesso está na hibridização.
Paris, com sua proposta da cidade de 15 minutos, também aponta isso. Procure que todos os serviços essenciais estejam a uma distância para caminhar ou pedalar.
A tecnologia ajuda a gerenciar essa descentralização, possibilitando o trabalho remoto e a gestão local de serviços, mas o objetivo final é a proximidade física.
O contraste entre o frio de Songdo e a vitalidade recuperada em Barcelona ou Medellín marca o caminho para nós.
A cidade não precisa ser mais inteligente no sentido de ter mais chips; Precisa ser mais sábia em como usa esses recursos para promover o encontro humano.
Em conclusão, a tecnologia transformou nossas cidades, mas corremos o risco de construir gaiolas douradas digitais se priorizarmos a eficiência em detrimento da coexistência.
Autores como Sassen e Sennett nos alertaram sobre a necessidade de manter a complexidade e a abertura no design urbano.
O desafio para o restante da década é claro: usar ferramentas digitais para derrubar muros, não para construí-los.
Devemos passar da obsessão pelo trânsito de veículos para a paixão pelo trânsito de ideias e afetos. Uma cidade verdadeiramente inteligente é aquela onde a tecnologia é invisível e o que brilha é a qualidade das relações humanas em suas ruas.
Referências
Sassen, S. (2013). A Cidade Global: Nova York, Londres, Tóquio. Princeton University Press.
Sennett, R. (2018). Construção e Habitação: Ética para a Cidade. Farrar, Straus e Giroux.